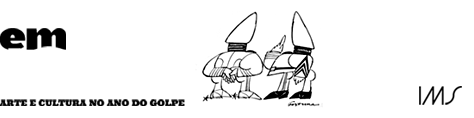Em 27 de dezembro de 1964, duas semanas após a estreia de Opinião, José Ramos Tinhorão publicou um longo artigo no Diário Carioca apontando o espetáculo como o novo capítulo de uma antiga história: a “apropriação da cultura popular pela classe média sem cultura própria”.
Crítico sem medo de polêmica e preparando-se então para se firmar como um decisivo historiador de cultura popular, Tinhorão via apenas boas e ingênuas intenções nos artistas como Nara Leão, moça crescida em Copacabana que dividia o palco com o carioca “do morro” Zé Kéti e o maranhense João do Vale.
No domingo seguinte, no mesmo Diário Carioca, dois Sérgios, o Porto e o Cabral, defenderam o Opinião dos ataques, embora concordando com certas premissas de Tinhorão.
Em 1964 reproduz aqui os três artigos que formaram essa polêmica. (Ao fim do texto de Tinhorão, clique em 2 para ir para a página dos outros textos, onde também há um depoimento em vídeo de Sérgio Cabral em 2014.)
Um equívoco de opinião
(Diário Carioca, 27 e 28/12/64)
José Ramos Tinhorão
O sucesso do “show” Opinião, à base da interpretação de músicas por um nordestino (João do Vale), um compositor de extração popular (Zé Kéti) e uma moça carioca da classe média (Nara Leão), vem juntamente com o interesse despertado pelo restaurante Zicartola e pela gafieira Estudantina [apontar] um curioso momento sociológico: o da apropriação da cultura popular pela classe média sem cultura própria.
Historicamente, essa apropriação nasce no início do século com as modernas camadas urbanas surgidas da multiplicação dos serviços públicos e das atividades técnicas, liberais e burocráticas, direta ou indiretamente ligadas ao advento da indústria do Rio de Janeiro.
Essas camadas de uma classe média necessariamente heterogênea (comerciantes, pequenos proprietários urbanos, donos de terras emigrados, funcionários públicos, militares, doutores e burocratas em geral) seriam os responsáveis pela instabilidade política da primeira República, pela Revolução de 1930 e, após o fim da Ditadura, pela variedade das legendas de partidos, cuja inconsistência começa a ser posta a nu pela concentração do poder, decorrente da concentração capitalista.
Até a década de 40, essa apropriação da cultura popular foi representada na música erudita pelos pastiches barulhentos de um antigo seresteiro de rua chamado Villa-Lobos. Na literatura pelo aproveitamento da tragédia pessoal dos nordestinos como tema de romances regionalistas e, na música popular, pela criação da marcha de carnaval e do “samba de rádio” — orquestrado e monopolizado por cantores de nome e compositores profissionais.
Fenômeno semelhante havia ocorrido nos Estados Unidos, onde a euforia econômica que ia terminar na grande crise de 1929 provocou — pela ânsia de diversão nas cidades — a valorização comercial da música dos negros do sul barulhenta e “curiosa”.
Em Nova Iorque tornou-se “bem” o interesse pelo Harlem. A desmobilização, após a guerra de 18, enchera Nova Iorque de negros. A zona norte do Central Park crescia dia a dia, e logo se impunha por seu colorido para tema de revistas como Lulu Belle, encenada no Belasco Theatre, em 1925, e de romances como o Nigger Heaven, de Carl Van Vechten. Um repórter da revista Variety pôde descobrir, então, em um porão do Black Belt, “numerosos brancos da cidade, todos em traje de noite” gozando o sabor esquisito do ambiente negro do cabaré Small Paradise, animado pela música hot da Johnson’s Band, do creoulo Charley Johnson.
No Brasil, a tomada de consciência dos valores nacionais, primeiro com a Exposição de 1908, comemorativa do centenário da abertura dos portos, depois com a Exposição de 1922, no Centenário da Independência, levou a classe média urbana a descobrir o pitoresco da canção nordestina, ainda impregnada do folclore que traduzia a perpetuação de quatro séculos de dominação econômica do latifúndio.
Então, como por um passe de mágica, o poeta Catulo da Paixão Cearense (que nascera no Maranhão, passara a primeira juventude no Ceará e já era tão carioca quanto qualquer outro chorão do início do século) começou a escrever letras sertanejas para canções calcadas em melodias de um João do Vale da época — no caso um João mesmo — o violonista João Pernambuco.
A classe média carioca, de formação ainda tão recente que não conseguira estilizar o ritmo dos negros (o que só aconteceria uma década mais tarde, com o aparecimento do samba), encantou-se com as emboladas, que se transformaram na grande moda musical.
Tal como agora acontece com o “show” Opinião — e embora em outro plano de intenções como se verá — a onda de regionalismo, de “popular brasileiro” refletiu-se também no teatro, que nessa quadra se resumia ao teatro de revistas da Praça Tiradentes.
Desde a peça “Zizinha Maxixe”, de Machado Careca, estreada no Teatro Eden Lavradio em 1897, uma compositora da camada média, Chiquinha Gonzaga, já havia tentado a estilização de um ritmo popular com o corta-jaca denominado “Gaúcho”.
A despeito do sucesso da música, no entanto, a velha classe média vinda do Império ainda não tinha chegado ao estágio da “consciência nacional” capaz de interessá-la na descoberta. A época era ainda apenas a da exportação de produtos agrícolas e da importação de artigos manufaturados. Assim, era o cultivo de valsas, polcas e shotisches — importados da Europa juntamente com os próprios planos — que indicava refinamento e bom gosto.
Por essa razão, o corta-jaca de Chiquinha Gonzaga ficou isolado na história da música popular, renovando-se, entretanto, o seu sucesso, de quando em vez: em 1901, com Maria Lino, no Eldorado da Lapa; em 1904, na revista luso-brasileira “Cá e Lá” e em 1914 na revista “Corta-Jaca”, de , Zéantone — aproveitando, já agora, a voga do “folclórico”.
Seria, pois, a partir de 1915, com a burleta de Gastão Tojeiro “A Cabôca de Caxangá”, estreada no Teatro São José em 20 de outubro de 1915, que o teatro começaria efetivamente a fornecer espetáculos à base de música nacionalista, para consumo da nova classe média ansiosa de auto-confirmação. Como não podia deixar de ser, ontem, como hoje, a impressão foi de contraste.
A apropriação da cultura popular, sob a forma caricata da imitação da linguagem falada pela “gente rústica do sertão”, e o aproveitamento puro e simples das suas músicas, tornou-se ostensiva, a despeito do sucesso de peças como “Morna”, de Viriato Correia, em 1918, e “Flor Sertaneja”, de J. Miranda, em 1919.
Essa espécie de novo romantismo, estimulado pela novidade do estudo do folclore, invadia a literatura com os caboclos do paulista Valdomiro Silveira e do plano literário passava ao comercial, através da história de almanaque do Jeca Tatu, criado por Monteiro Lobato para o seu amigo fabricante do Biotônico Fontoura.
Ao iniciar-se a década de 1920, o desejo da classe média de encontrar um estilo “nacional” onde se pudesse enquadrar era tão grande, que o representante mais típico dessa tendência no Rio de Janeiro, o letrista e cantor de modinhas Catulo, tornou-se o convidado oficial de todos os salões elegantes. Tal como agora acontece com Zé Kéti, devendo-se substituir apenas a expressão salões por boates elegantes (como, por exemplo, a Las Vegas Country Club, onde se apresentou anteontem).
A diferença entre o ontem e o hoje reside apenas no fato de que, na década de 1920, como a classe média ainda possuía a ilusão de participação política nos governos, através do voto, os próprios presidentes da República prestigiavam essas manifestações de democratização da cultura, que lhes parecia o maior passo na conquista de um “caráter nacional”.
E eis como se explica que Catulo, artista da classe média, supostamente “o troveiro dos humildes”, como o chamaria um biógrafo, pôde ser recebido para cantar em Palácio por quatro presidentes da República: Nilo Peçanha (1909-1910), Hermes da Fonseca (1910-1914), Epitácio Pessoa (1919-1922) e Artur Bernardes (1922-1926).
Basta atentar para as datas, e se verá claramente demarcado no interesse dos governos por Catulo os dois momentos de valorização nacional dos produtos regionais: o momento subsequente à Exposição da Praia Vermelha, de 1908, e o que coincide com a Exposição da Esplanada do Castelo, em 1922.
Acontece que, com o advento dos anos da ditadura, e a criação de Volta Redonda, o aparecimento de um novo surto industrial e as “oportunidades” geradas pela presença de capitais do chamado “esfôrço de guerra” deslocaram o interesse dos governos diretamente para as novas camadas de trabalhadores urbanos, que passavam a representar o novo elemento decisivo na composição de forças político-econômicas. Foi criada uma Legislação Trabalhista para resolver as pendências surgidas nas relações até então ditas entre patrões e empregados das áreas industriais. Essa legislação, entretanto, deixava no ar as relações das camadas médias, desde logo prejudicadas pelo centralismo dos serviços públicos do Estado que enquadrava antigas e honrosas profissões liberais como a dos médicos, advogados, dentistas, engenheiros etc. no quadro geral dos assalariados.
Desse momento em diante, todo o esforço das camadas mais elevadas da classe média desenvolveu-se no sentido do protesto e da oposição ao governo. Com a conhecida frase do presidente Vargas em seus discursos “Trabalhadores do Brasil”, marcava-se oficialmente a distinção de classes que punha fim à ilusão do denominador de cultura representado pelas tentativas de incorporação dos motivos populares. Politicamente o resultado dessa evolução foi a queda do presidente Getúlio Vargas, a instituição da Constituição conciliadora de interesses contrários de 1946 e a multiplicidade dos partidos, à volta dos quais gravitariam as massas trabalhadoras urbanas, no fundo manobradas através dos sindicatos pelo herdeiro do paternalismo getuliano, o sr. João Goulart.
Culturalmente, a nova fase deixou as classes populares na mesma, isto é, com os mesmos índices de analfabetismo e fiéis à mesma linha de evolução “folclórica”, enquanto a classe média — dividida por força da sua heterogeneidade — descambava para tendências as mais opostas.
Na verdade, finda a guerra, as camadas urbanas do Rio de Janeiro começavam a diversificar-se tão intensamente que todas as ideias e gostos se tornaram permitidos, menos — naturalmente — as ideias comunistas, que simbolizavam o perigo de aglutinação das forças da camada de baixo.
Assim, enquanto a corrente dos literatos e intelectuais, divididos em acadêmicos e modernos, via nascer a geração dos herméticos indiferentes à realidade circunstante, os grupos não letrados da classe média caíam simplesmente na alienação total, voltando-se de corpo e alma para a admiração do que representava o equivalente da sua classe nos países mais desenvolvidos.
E eis como, pelo fim da década de 40 e início da de 50, a classe média do Rio de Janeiro passou a uma forma de universalismo que podia ser traduzida na mania dos óculos Ray-Ban e das calças blue-jeans, no interesse pelo aprendizado da língua inglesa, e na adesão a formas de música e dança internacionais: o fox-blue, o bolero, o swing, o bebop, o rock, o cha-cha-cha, o calypso etc.
A corrida imobiliária criava o fenômeno do aproveitamento vertical do espaço urbano em Copacabana. Com o adensamento da população localizada na área além dos túneis Velho e Novo deslocavam-se os centros de diversão noturna da cidade para a zona sul. A proximidade da praia e o contato direto com os turistas estrangeiros de Copacabana revolucionavam os princípios de moral e consequentemente o estilo do vestuário. A relativa unidade econômica das famílias, determinada pelo preço médio de venda e do aluguel dos apartamentos, somada às condições singulares de convivência nos edifícios fez surgir dentro da classe média do Rio de Janeiro um reduto de população todo particular.
De uma maneira geral, a geografia urbana dessas camadas médias da cidade pode ser dividida, então, de uma maneira geral, entre Zona Norte e Zona Sul: a primeira congregando uma maioria de famílias “antigas” e “tradicionais” até o Grajaú, e mais modestas na faixa suburbana; a segunda congregando, ao lado da massa heterogênea dos moradores de Flamengo, Botafogo e Posto 2, a maioria de famílias “novas” da alta classe média dos Postos 4, 5 e 6, Ipanema, Leblon e Gávea.
O grosso das famílias do que se poderia chamar a elite da classe média “nova” ia localizar-se, pois, na parte mais valorizada de Copacabana, ou seja, do Posto 4 a Ipanema e Leblon.
Dessa primeira onda de moradores de apartamentos construídos durante o “rush” imobiliário iniciado ainda antes do fim da guerra, ia surgir toda a geração de jovens agora entre 18 e 22 anos. Nascida e criada no mais novo e mais cosmopolita bairro do Rio, essa geração formava-se praticamente estranha ao espírito tradicional da cidade, cujo segredo ficara com os depositários dos costumes das santigas classes populares,
progressivamente empurradas do Centro para o Norte, via Vila Isabel, Catumbi e Rio Comprido, de um lado, e pelos trilhos da Central e da Leopoldina, do outro.
É de se compreender, pois, que ao atingir a primeira juventude, no fim da década de 50, essa camada uniforme de jovens da falta classe média se encontrasse aberta a todas as influências e, de certa maneira, sujeita mesmo ao atordoamento.
Os resultados não se fizeram esperar. À disponibilidade intelectual, pela ausência da tradição, seguiu-se a sujeição aos padrões de cultura estrangeira, principalmente norte-americana, imposta maciçamente através do rádio, do cinema, do disco e da literatura (histórias em quadrinhos e pocket-books). Ao atordoamento pela falta de objetivos em que fixar-se (a estrutura subdesenvolvida é escassa de oportunidades) seguiu-se a canalização das energias para as paixões violentas, os vícios ou a simples vagabundagem representada no que se convencionou chamar de “juventude transviada”.
No entanto, como ainda assim foi entre essa camada e nessa geração que se recrutou o maior número dos elementos que chegam agora aos cursos superiores, é evidente que dessa camada teriam que surgir as novas tendências, gostos e lideranças intelectuais e políticas.
Ingressada na economia geral do país, ao tempo do presidente Kubitschek, em um ritmo acelerado de desenvolvimento industrial, seria, pois, ainda uma vez a classe média — e principalmente a da Zona Sul, pelos motivos citados — que iria traduzir no Rio de Janeiro o reflexo da nova fase, de uma maneira geral.
Como, porém, as contradições rentes ao crescimento desordenado tornam impossível o encontro de um denominador comum (desta vez até para a própria classe média, apenas), ela se dividiu em grupos irredutíveis, que obedecem a tendências ligadas com o seu tipo de relações com a estrutura vigente no momento dado.
E eis como chegamos ao ponto de explicar, no plano da cultura; o curioso interesse de um desses grupos da classe média urbana carioca, predominantemente da Zona Sul, pelas manifestações de cultura popular representada no “show” Opinião e nos ambientes dos ensaios das escolas de samba, da gafieira Estudantina e do restaurante Zicartola.
Esse interesse nasceu há cerca de cinco anos, com a descoberta dos ensaios das escolas de samba como motivo de atração da chamada “gente bem”, que outra não é do que a alta classe média.
A corrida imobiliária, forçando pela elevação dos aluguéis a dispersão dos moradores das áreas valorizadas, provocou a concentração dos mais pobres nos morros, formando núcleos de população predominantemente negra nos redutos delimitados das favelas.
Ora, como eram exatamente esses elementos que guardavam o segredo da tradição de costumes populares mais genuinamente cariocas — que eram os costumes herdados dos negros escravos — a tendência foi para uma nova síntese de cultura popular.
Esse reencontro de elementos de uma mesma origem, até pouco dispersos na convivência com elementos de vários níveis (casas de cômodos, cabeças de porco, albergues, cortiços, vilas etc.), provocou o recrudescimento de velhas práticas. No campo da religião, a macumba reorganizou-se e, pelo sincretismo, ascendeu à forma evoluída da Umbanda, originando a proliferação de tendas e terreiros que gozam até de pequenas dotações do Estado. No campo das diversões e da música, os primitivos ranchos e cordões reapareceram sob a forma de associações recreativas carnavalescas chamadas de escolas de samba.
Com a incorporação até mesmo inconsciente de figuras processionais, como a ala das baianas (sobrevivência das procissões da Senhora do Rosário), e as alegorias conduzidas em charola ou em carretas (herança dos ranchos do folclore nordestino), as escolas de samba trouxeram para o carnaval carioca a maior e mais original criação das camadas urbanas de qualquer cidade.
O reconhecimento dessa originalidade das escolas de samba, no mesmo instante em que o fenômeno de dispersão populacional que tomara possíveis fazia entrar em decadência o carnaval de rua. levou à sua oficialização no calendário turístico.
Armadas as arquibancadas nas Avenidas Presidente Vargas e Rio Branco, a classe média tomou os seus lugares (o povo fica de longe, assistindo de pé) e começou a bater palmas para o show de cultura popular que ajudava a institucionalizar com o seu entusiasmo estético.
Nesse mesmo momento, a onda de nacionalismo desencadeada pelo ingresso decidido da economia brasileira no ritmo acelerado do desenvolvimento autofinanciado pela inflação levou mais uma vez a classe média à consciência da sua alienação. Tal como acontecera na primeira e segunda década do século, houve entre os elementos dessas camadas um súbito desejo de auto-afirmação. Esse sentimento predispunha ao engajamento a alguma ideia capaz de indicar, objetivamente, a sua participação no processo de desenvolvimento, que prometia transformar o país de importador em exportador — inclusive de cultura (e o sucesso de Brasília já era um primeiro exemplo, no campo da arquitetura).
Assim, como a classe média — e principalmente a sua camada mais intelectualizada — só participa da produção indiretamente, pela prestação de serviços (a força do capital está com a burguesia, a do trabalho com os operários), a maioria dos elementos médios passaram ao apoio à tese do desenvolvimento, e do congraçamento com as camadas populares, através de uma união temporária que marcou a lua-de-mel política do PSD com o PTB.
Culturalmente, esse período que coincidia com o governo Kubitschek foi representado por uma efervescência intelectual, que se traduzia no incremento da produção de livros, na tentativa do ISEB de encontrar fundamento filosófico para uma economia desafiadora dos princípios clássicos e, finalmente, na ampliação dos quadros universitários, a fim de atender à demanda de técnicos para a indústria.
Quando esse grupo otimista da alta classe média começou a frequentar os ensaios das escolas de samba, a partir do mês de dezembro, a atual geração de jovens entusiastas do “show” Opinião e do restaurante Zicartola pensava ter encontrado, no campo da música popular, a fórmula equivalente do “nacionalismo desenvolvimentista” do país : tinha criado a bossa-nova.
Imediatamente, congregados à volta de organismos ao mesmo tempo culturais e políticos (UNE, UME, diretórios acadêmicos, centros de cultura), essa juventude filha do equívoco, que consistia em apoiar uma fração da burguesia dita progressista em troca de uma ilusão, cometia o equívoco de pretender, mais uma vez, encontrar o velocino de ouro do denominador comum de cultura — em ritmo de jazz.
Enquanto o presidente Kubitschek inaugurava a linha de produção dos automóveis JK, na Fábrica Nacional de Motores, diante de uma fila de carros trazidos às pressas da Itália para a ocasião, centenas e centenas de jovens reuniam-se no Shopping-Center de Copacabana e na Universidade Católica para aplaudir a Operação Panamericana da bossa-nova. Simultaneamente, um grupo de bossa-novistas mais “avançados” editava sob a égide da UNE “long playings” compactos com arranjos jazzísticos providos de letras de intenção revolucionária. Peças-relâmpago eram encenadas em praça pública ante a divertida curiosidade popular, e réplicas formais de folhetos de cordel da literatura popular nordestina foram impressos, reeditando num plano novo o fenômeno sertanejo de Catulo.
Ao mesmo tempo em que isso acontecia, no entanto, as contradições de uma estrutura agrária feudal, abalada pelo surto industrial e a explosão demográfica, remexia de novo as pedras do mosaico social.
A freada no chamado “desenvolvimento com inflação”, provocada pela grita dos grupos de classe média alijados do processo econômico necessariamente sujeito ao favoritismo, mais uma vez obrigou os idealistas desapontados a proceder a novo exame da situação.
Acontece que, como a esta altura, a liderança intelectual dessas camadas mais altas da classe média passara aos jovens (por força do impacto provocado sobre as universidades pela onda de politização), foi aos moços do Posto 4 a Ipanema, Leblon e Gávea, agora entre 18 e 22 anos, que se entregou a tarefa de encontrar a nova fórmula de auto-confirmação.
No próprio “show” Opinião, citado como exemplo desse instante atual de apropriação da cultura popular, há um pequeno momento que exemplifica claramente o que se quer demonstrar. A cantora Nara Leão, que simboliza esse grupo reivindicador da classe média (foi pioneira da “bossa-nova”), anuncia a certa altura do espetáculo que vai gravar baiões “sim”.
A resposta provocativa a uma pergunta, vinda do alto-falante, tem por objetivo demonstrar a sua decisão de romper com o preconceito cultural das camadas médias da Zona Sul contra um gênero de música folclórica, que pagava o ônus de ter sido estilizada por um compositor profissional, com objetivos estritamente comerciais, em plena época da alienação. Realmente, quando o compositor e depois deputado Humberto Teixeira lançou no mercado o disco com a novidade do baião, no fim da década de 40, esse gênero de música era considerado pelos admiradores do “jazz” como um subproduto regional: um refresco de caju que não se comparava, em matéria de sabor, com a refrescante Coca-Cola.
Assim, o que a decisão anunciada pela cantora Nara Leão quer dizer, agora, é apenas que, neste novo momento da apropriação da cultura por parte da classe média, a consciência da alienação está gerando outra fase de idealismo.
O que houve, na realidade, é que o grupo simbolizado na antiga deusa da bossa-nova percebeu a falsidade cultural que consistia em cantar composições jazzísticas com letras em que a novidade do impressionismo nascia da falta de sintaxe, e revelava a ausência de conteúdo que transformava todas as músicas numa espécie de melado musical.
Para sanar esse mal, o idealismo dos responsáveis pela nova tendência parece querer juntar o oportunismo talentoso do compositor urbano Zé Kéti à ingênua autenticidade do compositor nordestino João do Vale, descoberto por acaso pela classe média nas apresentações do Zicartola, a despeito seu sucesso como compositor de baiões em todo o Nordeste, há 13 anos.
Aliás, como nasceu o próprio “show” Opinião?
Nasceu do entusiasmo da nova geração universitária da classe média, ante a apresentação de sambas antigos por velhos compositores esquecidos (Cartola, Ismael Silva, Nelson Cavaquinho) no restaurante Zicartola, em um sobrado da Rua da Carioca.
Mas como nasceu o Zicartola?
Nasceu como decorrência do mesmo fenômeno de entusiasmo que levou a classe média a procurar nos morros a fonte da vitalidade de uma cultura que não encontra exemplo em seu próprio meio.
Onde estará, então, a contradição em todo esse movimento consentido de incorporação de padrões de outra classe?
A contradição está expressa no determinismo histórico-sociológico que mostra que uma cultura autêntica não se transplanta, mas se cria pela sedimentação progressiva de fatores condicionantes, não apenas durante uma vida, mas durante muitas gerações.
Por que as classes médias não estabelecem, então, os seus próprios padrões?
As camadas médias não conseguirão, jamais, um caráter próprio, porque a sua característica é exatamente a falta de caráter, isto é, a impossibilidade de fixar determinado traço por longo tempo, em consequência da sua extrema mobilidade dentro da faixa situada entre a prestação de trabalho mecânico (salário-mínimo) e a detenção dos meios de produção (grande capital financeira e de indústria).
Por que insistem, então, os responsáveis pelas diretrizes culturais da classe média brasileira, e particularmente carioca, em mais uma tentativa de apropriar-se da cultura popular?
Insistem, como das outras vezes, por idealismo. Embora muitos dos orientadores da moderna tendência à comunhão com a cultura popular tenham as suas tinturas de marxismo, a sua ingenuidade é evidente.
O “show” Opinião, por exemplo, parece querer dar a impressão — pelas entrelinhas do seu texto cuidadoso — de uma tentativa de reação à política de coelhinho assustado instaurada pela Revolução de Abril. Segundo os defensores desse idealismo, o “show” Opinião é a mais séria tentativa de despertar a consciência nacional do povo, através de uma espécie de propaganda subliminar oferecida com o atrativo da boa música popular. É como decorrência desse princípio e dentro desse esquema que Nara Leão vai gravar baiões. Será ainda por idealismo que — segundo se anuncia — todo o elenco do “show” vai apresentar-se de graça amanhã — dia de folga do grupo — no restaurante Zicartola, para levantar a freqüência do restaurante que caiu depois da estreia de Opinião.
Assim, o que os organizadores do “show” e a juventude universitária que o aplaude parecem não perceber, no entanto, é que o espetáculo do Teatro de Arena quanto o restaurante Zicartola, da Rua da Carioca, são criações de um grupo da classe média para consumo das próprias ilusões. Nem chega a ser de toda a classe média. Realmente, embora pela tendência geral às excitações da “cor local” e do “autêntico” possa levar representantes dos chamados “grupos reacionários” da classe média (senhoras da CAMDE – Campanha da Mulher pela Democracia, Rosário em Família, velhinhas na janela e malamadas em geral), a “mensagem” política do “show” não os demovera um milímetro de suas posições (que também resultam de um equivoco idealista).
Quanto ao povo, a quem se dirigem as boas intenções políticas, esse fica à distância pelo próprio preço do espetáculo, que foge ao seu poder aquisitivo, ainda que uma boa publicidade pudesse despertar-lhe a curiosidade.
A cantora Nara Leão, naturalmente, gravará baiões com letras que revelarão as injustiças sociais do Nordeste brasileiro, é verdade, mas, como o LP também fugirá ao poder aquisitivo da maioria do povo e parte da baixa classe média, os baiões da cantora bem intencionada circularão também apenas na faixa na classe que já foi ver Opinião.
Os nordestinos, esses continuarão a cantar as composições que João do Vale produz há 13 anos para eles em discos de 78 rotações, cantados por Luiz e Zé Gonzaga.
O esfôrço para ajudar o ingênuo Cartola a pagar sua dívida de milhões pela compra (também idealista) do restaurante do sobrado velho da Rua da Carioca lhe permitirá resgatar parte das promissórias, ou até, quem sabe, todas elas. Dentro de algum tempo, porém, os jornais noticiarão que, por qualquer motivo que Cartola dirá em entrevista, fechou finalmente o restaurante Zicartola.
Com o fim do Zicartola passará a moda da Estudantina. Dentro de alguns anos, a outra forma de apropriação de cultura (esta sem idealismo) que consiste em infiltrar-se a classe média nos desfiles das escolas de samba, destruirá a sua autenticidade e corromperá sua estrutura baseada na solidariedade do grupo.
O anacronismo da política econômica gerará uma reação por parte da burguesia industrial e o pais entrará novamente em um período de desenvolvimento econômico sob moldes ainda impossíveis de prever.
Os jovens universitários entusiastas do “show” Opinião se formarão em suas carreiras e ingressarão no processo econômico prestando serviços à burguesia industrial. Os que não conseguirem bons postos ficarão na oposição. Como resultado do novo quadro econômico, as camadas da classe média sofrerão outro abalo. O novo abalo trará a necessidade de engajamento em uma linha de ideologia e de cultura capaz de afirmar sua posição na estrutura vigente. Os elementos mais credenciados da classe média descobrirão que a sua classe não possui uma cultura própria. Então, alguém se lembrará de que o negócio é tentar uma aproximação com o povo, porque, como ele continua sem mudança no seu trabalho mecânico, é nele que se conserva o resíduo da tradição e é na sua cultura autêntica que está a chave capaz de abrir o caminho para urna consciência nacional.
José Ramos Tinhorão é historiador de cultura popular.
Pages: 1 2