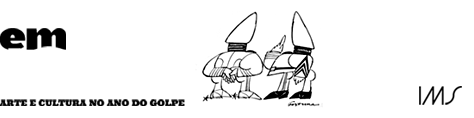Cai o pano. Logo depois, o elenco se pergunta, sussurrando no palco: “O que será que o Decio achou? Alguém viu a expressão dele durante o espetáculo?”. Era essa a tensão vivida pelos atores que recebessem em sua plateia a presença de um dos maiores críticos teatrais do Brasil: Decio de Almeida Prado. Quem conta é Paulo Autran, que inicia com aquelas perguntas seu depoimento para o livro Decio de Almeida Prado: um homem de teatro, lançado por ocasião dos 80 anos do intelectual: “Sua opinião era importante para todos nós”, admite o ator.
No entanto, mais do que uma opinião favorável ou desfavorável, a capacidade de Decio de aliar seu conhecimento técnico a uma rara sensibilidade poética fez de suas críticas fonte indispensável para aqueles que desejavam conhecer e pensar o espetáculo a partir de seus possíveis significados, desvendados com maestria pelo exercício crítico. Desde o cenário e sua participação na ação dramática à dicção e modulação vocal de um ator, nada escapava ao olhar perspicaz de Decio.
Em 1964, ele assistiu a Depois da queda, peça autobiográfica escrita por Arthur Miller e dirigida por Flávio Rangel, que colocava em cena o relacionamento entre o escritor e dramaturgo norte-americano a atriz Marilyn Monroe, com quem foi casado de 1956 a 1961. Em sua crítica, ele considera o espetáculo “um dos mais harmoniosos que jamais vimos no teatro nacional”, com destaque para as atuações de Maria Della Costa, como Marilyn, e de Paulo Autran, como Quentin. Eles, na sua opinião, “formam um par perfeito”.

Paulo Autran na peça Depois da Queda, de Arthur Miller e direção de Flávio Rangel. Fotografia de autor não identificado (Acervo Paulo Autran/IMS).
No livro Paulo Autran sem comentários, o ator conta seu entusiasmo com o texto, apresentado a ele por Tônia Carrero, e sua identificação com o personagem:
Raramente concordei tanto com as ideias de um personagem, a necessidade da tolerância, a compreensão de que a violência está dentro de cada um de nós e que cabe a nós controlá-la, sua visão do amor, da amizade, da ética, da autoanálise, enfim, todos os temas da peça refletiam o que eu sentia e pensava.
Daí, provavelmente, a “sinceridade” e a “emoção autêntica”, que, aliadas ao “excelente domínio técnico” resultaram na atuação tão elogiada por Decio, que termina seu texto defendendo um ponto de vista contrário aos que alegavam que a obra trazia à cena personagens reais, facilmente identificáveis: “Para o escritor o que há de mais precioso no universo é a sua obra de ficção: ela é, ao mesmo tempo, o seu confessionário e o seu púlpito. Nenhum terreno portanto lhe é interdito, desde que não se ponha em dúvida a sua boa-fé”.

Trecho da crítica de Décio de Almeida Prado sobre Depois a queda, publicada no jornal O Estado de S. Paulo em 9 de agosto de 1964. Arquivo Paulo Autran / Acervo IMS
A encenação de Depois da queda
Decio de Almeida Prado
O Estado de S. Paulo, 9/8/1964
Não há muito que dizer sobre o trabalho de Flávio Rangel: a concordância, em contraposição à discordância, é lacônica, não tendo e não sentindo necessidade de justificar-se. O encenador limitou-se a usar com extrema modernidade as armas tradicionais da sua profissão — o delineamento exato das personagens, o emprego sutil do ritmo e da atmosfera — não recorrendo à imaginação a não ser para compreender e explicitar sem didatismos o texto. O que se vem discutindo desde a estreia é Arthur Miller, não Flavio Rangel, sinal de que a sua função de intérprete entre autor e público foi exercida com rara competência e discrição. Os elogios que lhe cabem estão assim disseminados por todo o espetáculo — um dos mais harmoniosos que jamais vimos no teatro nacional. Emoção relembrada na tranquilidade foi como Wordsworth definiu a poesia. Pois não falta a Depois da queda nem mesmo esta serenidade poética, que transforma o próprio sofrimento, a própria violência, em verdades artísticas.
Elogio semelhante poderia ser feito ao cenário de Flávio Império, um homem de teatro que, sendo arquiteto, pensa sempre espacialmente, preocupando-se não em compor um quadro mas em fornecer um suporte para a ação; e, sendo artista, nunca se contenta com este estágio meramente artesanal, isto é, com a solução dos problemas de ordem prática. É um cenário simples e variado, funcional e abundante de plasticidade, oferecendo aos atores diversas áreas de representação à medida em que se vai desdobrando em novas surpresas para os olhos.
Quentin — ele mesmo o diz — é um espelho que reflete as demais personagens. É pura consciência, pura subjetividade. Assim o interpreta Paulo Autran, como um homem mais de pensamento que de ação, dividido sempre pelo seu agudo senso de autocrítica. Haveria uma difícil questão técnica a resolver — distinguir entre as falas dirigidas às personagens e as endereçadas ao interlocutor imaginário — mas o ator passa com tanta maestria de um registro a outro que nem chegamos a perceber a dificuldade vencida. Num dos extremos do papel está a ânsia de saber toda a verdade sobre a conduta humana, inclusive a sua, o desespero, antes intelectual do que emocional, diante da impossibilidade de traçar fronteiras entre a sinceridade e a simulação. No outro extremo, aponta um sutil senso de humor, uma sombra de ironia — frente a Maggie, por exemplo, que ele trata como criança — que não chega a se impor porque não quer abusar de sua superioridade intelectual. Ele deseja ser mais humano do que os outros mas frequentemente o é menos, porque não se abandona ao fluxo da vida; quer ser mais compreensivo mas nem sempre consegue esconder um certo cansaço em face da estupidez alheia — será que os outros não compreendem nunca nada?
Maria Della Costa, como Maggie, é ao contrário pura animalidade, pura inconsciência — qualidades não intelectuais que atraem poderosamente o intelectual — ou pelo menos essa é a imagem que fabricou para si mesma, o abrigo em que se refugiou. Quentin, em parte por amor, por atração física, em parte por enternecimento, comiseração, decide acordá-la do seu sono letárgico — mas esse despertar só poderá significar, para ela, o confronto com as próprias inadequações. Maggie luta por adquirir uma nova personalidade, equilibra-se instavelmente entre a autoafirmação, que se faz a custa dos outros, e autonegação, que se faz a custa de si mesma, encontrando paz apenas nos tóxicos e no suicídio. Não terá compreendido nada a seu respeito, no entanto, quem não adivinhar por baixo da sua afrontosa vulgaridade não só uma imensa generosidade — certamente muito maior que a do Quentin — mas também um núcleo de inteligência e de honestidade pessoal que nunca teve ensejo de se expandir.
Lado a lado, Paulo Autran e Maria Della Costa formam um par perfeito, acompanhando com exemplar maleabilidade as variações do texto. Surpreende-nos não tanto a sinceridade, a emoção autêntica — virtudes que não faltam ao nosso melhor teatro — como o excelente domínio técnico. A cena do parque, em particular, o primeiro encontro entre os dois, não cremos que possa ser feita com mais graça e leveza em qualquer outro país.
Márcia Real, na hierarquia dos desempenhos, viria logo a seguir. Toda a sua maneira de ser, desde o seu perfil até a sua dicção exata e cortante, serve para delinear a personagem: beleza sem feminilidade, inteligência sem agudeza psicológica, correção moral sem tolerância. Thereza Austregésilo — a terceira esposa — cumpre com eficiência a função quase impossível que o texto lhe reservou: não ser quase nada e sugerir quase tudo. Dina Sfat — a moça que abençoa Quentin — é a lembrança agradável e fugidia que deveria ser.
Não há espetáculo em São Paulo, de alguns anos para cá, que de uma maneira ou de outra não deva alguma coisa à Escola de Arte Dramática. A sua contribuição, no presente espetáculo, traduz-se no bom desempenho de três atores coadjuvantes. Ripoli Filho e Juca de Oliveira, desde a estreia, amadureceram extraordinariamente a importante cena que têm em conjunto, definindo com muita nitidez o antagonismo entre os respectivos temperamentos. E Sylvio Zilber — o irmão mais velho — passa discretamente pelo drama com a firmeza que lhe é peculiar. Suzy Arruda e Carlos Garcia (mãe e pai de Quentin) têm os dois desempenhos porventura mais discutíveis: ela, porque Flávio Rangel deu à personagem uma interpretação demasiadamente adversa; ele, devido ao vício, herdado do velho teatro, de não modular a voz, usando-a sempre com o máximo de intensidade. Mas não chegam a destoar.
Depois da queda tem sido criticada, sobretudo nos Estados Unidos, por trazer à cena personalidades reais, que ninguém terá dificuldade em reconhecer. Não é esse o nosso ponto de vista. “Tout au monde existe pour aboutir à un livre”, disse Mallarmé, resumindo numa frase todo o catecismo da arte — pois que se trata na verdade de uma religião. Para o escritor o que há de mais precioso no universo é a sua obra de ficção: ela é, ao mesmo tempo, o seu confessionário e o seu púlpito. Nenhum terreno portanto lhe é interdito, desde que não se ponha em dúvida a sua boa-fé. Depois da queda é sem dúvida, como se tem alegado, um in memoriam dedicado a Marilyn Monroe. Mas confessamos não ver nada de irrespeitoso em obra tão fundamentalmente dominada pela obsessão da verdade — qualquer que seja o preço que se tenha de pagar para chegar até ela.