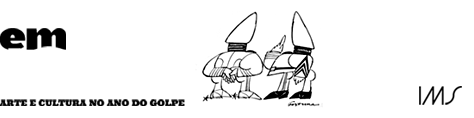Última Página
As eleições americanas (I)
Rachel de Queiroz
É bom falar nas eleições americanas agora que o presidente Lyndon Johnson está triunfalmente reeleito, com a sua votação de avalanche (landslide), como eles dizem aqui. E o vencido senador Barry Goldwater chora as mágoas e conta os erros, enquanto descansa das fadigas eleitorais com a sua Nancy, em alguma estação de férias, parece que nas Bermudas.
Mas antes do dia 3 de novembro passado havia muito receio e até aflição. Temia-se o falado backlash dos brancos, a forra na urna, a votação maciça da população branca em Goldwater, como represália às desordens e violências cometidas por grupos radicais negros durante a batalha dos civil rights, nas ruas das grandes cidades, especialmente em Nova Iorque, onde jamais se vira isso.
A posição de Johnson, de obediência às medidas de igualdade racial determinadas pela Suprema Corte, e as enfáticas afirmativas feitas pelo presidente, na campanha eleitoral, de continuar a revigorar a política em prol da extensão dos direitos civis da minoria negra, faziam temer aos entendidos essa reação de intolerância branca. Felizmente verificou-se que, na sua imensa maioria, o povo americano é muito mais equilibrado, sensível e sinceramente democrático do que se diz no exterior, e do que aqui mesmo se receava. Que a bestialidade racista, se nesta terra ainda tem os seus sólidos bastiões, é renegada e combatida como uma doença, por uma maioria liberal e integracionista tão esmagadora como jamais se viu em todos os cento e oitenta e oito anos de independência dos Estados Unidos.
Nas semanas anteriores à eleição havia muita discussão, suspense e propaganda, é verdade; mas tudo muito longe daquele ambiente de competição histérica, promovida pelos candidatos, que se vê no Brasil. Aquela publicidade em faixas, que transforma as ruas em imensos varais de panos encardidos, os miúdos cartazes superpostos, grudados às árvores, aos postes, aos prédios e monumentos mais veneráveis, não os vi por aqui. Por cá é mais dignified. Cartazes sim, mas relativamente poucos, caros, desses grandes que as empresas poderosas erguem à margem das rodovias. Em geral fazendo propaganda dos candidatos à presidência, à governadoria do estado, ao senado. A arraia-miúda das listas eleitorais evidentemente não dispõe de fundos bastantes para entrar nessa competição publicitária. Nos jornais sai matéria de propaganda — mas não tanta quando seria de esperar. Aliás, a coisa é curiosa, não se sente que a imprensa, aqui, tenha em grande escala a sua tradicional força formadora de opinião. A imprensa antes parece caudatária do que porta-estandarte, se me explico bem. Ninguém parece ter ilusões sobre a liberdade dos grandes jornais, notoriamente ligados a conhecidos grupos. Pelo que converso com muita gente, não se nota que nenhuma campanha política dos jornais apaixone e abra sulcos importantes na opinião pública.
A grande arena é a TV. A propaganda pela televisão, paga a preço de ouro — que digo? a preço de urânio, pelo menos em dólar vivo, exaura as reservas partidárias mais ricas. Os tesoureiros dos partidos vivem a pedir fundos, a exigir mais dinheiro, mais dinheiro, para cuja aquisição o mais comum são os jantares políticos, a cem dólares o talher.
É trancado hermeticamente na sua casa ou apartamento aquecido para estes primeiros frios do outono, depois que chega do trabalho e janta, que o americano recebe a sua doutrinação política. Ou mesmo enquanto janta. Pois aqui cada vez mais aumenta a voga do TV dinner, que se compra pronto e congelado nos supermercados. É um prato de papelão aluminizado, semelhante às bandejas de lanche que servem à gente nos aviões, contendo um jantar completo (para americano, naturalmente…) que se põe a descongelar no forno. Cada pessoa da família apanha o seu — é grande a variedade dos menus — e se aboleta defronte ao aparelho de TV, comendo enquanto assiste ao debate.
Pela televisão é que os candidatos explicam o seu programa, xingam os adversários, entregam-se mesmo a desafios, como cantadores nordestinos. Assim se estimula e seduz o eleitorado. Tudo enlatado, trancado dentro de casa, assistindo calado, comendo, deixando-se penetrar pela propaganda.
E há também, fora da TV, as chamadas motorcades, ou cortejo de automóveis, que correm as cidades. O candidato vem de avião, forma-se o cortejo, e saem por aí, fazendo discursos nos pontos de maior concentração de gente. E há os trens eleitorais, como o de Goldwater, ou o Lady Bird Special, da enérgica esposa do presidente, que tomou parte na campanha como se ela própria fosse candidata. E de certa forma o era. O trem sai por aí, nessas infindáveis rodovias americanas que cruzam o país inteiro numa bitola só, para em todo lugarejo, usa a plataforma do último carro como palanque, é recebido triunfalmente pelas bandas de música locais, recebe a saudação dos maiorais correligionários, o aplauso da massa espetada de cartazes; faz o discurso, apita e vai embora. No trem, a comitiva mora, dorme, come, trabalha. Deve ser de matar.
Por falar em cartazes, os mais curiosos que vi foram pró-Goldwater, em universidades. Uma simples fórmula química: “Au-H20” (ouro e água — gold water).
Robert Kennedy, irmão do falecido presidente, é que dava um tom, digamos, mais “latino” à sua propaganda, que tinha como cenário principal a cidade de Nova Iorque — e talvez o fizesse por isso, por ser em Nova Iorque, que é diferente de todo o resto da América. Candidato ao Senado pelo Estado de Nova Iorque, elegeu-se bem. Dois Kennedys, aliás, estão agora no senado americano, Robert e Edward (Teddy), que assim mesmo no leito de hospital, onde convalesce da espinha maltratada num desastre de avião, fez campanha e se elegeu pelo Massachusetts. Bob Kennedy, que é moço e bonito, mostrava-se abundante pelas ruas, promovia festas, tomava parte em passeatas. Na parada da Descoberta da América (que aqui chamam Columbus Day) deu muito que falar aos adversários porque levou consigo o filhinho do finado presidente, o pequeno John-John, capitalizando eleitoralmente a reação sentimental do povo ante a presença do garoto órfão, a marchar como um homenzinho ao lado do tio.
(Continua na próxima semana)
…
Publicado na revista O Cruzeiro, em 5 de dezembro de 1964.