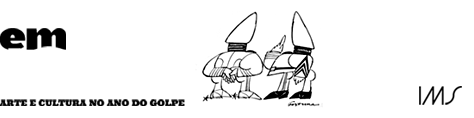Em 1º de junho de 1964, Deus e o diabo na terra do sol entrou em cartaz no Rio de Janeiro. Em sua mostra Em 1964, o IMS exibe o filme de Glauber Rocha também em 1º de junho, às 14h.

Cena de “Deus e o Diabo na terra do Sol”, de Glauber Rocha
Os primeiros espectadores de cinema, os que antes mesmo das sessões públicas foram convidados para a apresentação do Cinematógrafo Lumière para a Societé d’Encouragement pour la Science de Paris, em 22 de março de 1895, saíram da sala como se tivessem acabado de ver o mundo pela primeira vez. Provavelmente sem se dar conta disto, perceberam o que o invento solicitava deles e inventaram também: viram nos filmes a própria natureza, as casas, as ruas, o vento que agita as folhas das árvores, o céu distante, em cores, em tamanho natural. Os filmes – preto e branco, cerca de um minuto, numa tela de pouco mais de um metro: operários saindo, um trem chegando, o bebê abrindo a boca para o almoço, o garoto fechando a água da mangueira do jardim – eram um convite para (alucinar?) novas imagens. Parecia uma invenção de Deus e do diabo: “impossível saber se estamos diante de uma alucinação, se somos espectadores ou se fazemos parte destas cenas de impressionante realismo”.
Os primeiros espectadores de Deus e o diabo na terra do sol, os convidados para a sessão especial na manhã de 13 de março de 1964 no antigo cinema Vitória, na Cinelândia, saíram da sala como se tivessem acabado de ver cinema pela primeira vez. Os filmes então preocupavam-se em ficar mais parecidos com a realidade do que com o cinema. Os novos equipamentos e materiais, o exemplo ainda vivo do neo-realismo e, principalmente, a vontade que nos animava aqui, descobrir e discutir o país no cinema, tudo sugeria usar a câmera para espelhar tão fielmente quanto possível o pedaço de realidade diante dela. Glauber partiu noutra direção. Pensava o cinema como “pintura em movimento com som” e usou a câmera para rabiscar formas abstratas sobre a cena.
Por exemplo: Corisco e Dadá na hora de tirar os fantasmas da cabeça. Maria Bonita morreu, mas Lampião só acabou na carne. O espírito de Lampião continuava vivo, no corpo dele, Corisco, cangaceiro de duas cabeças para consertar o sertão. Ele caminha em círculo em volta de Dadá, dá um passo à frente e contracena não propriamente com ela, mas com a câmera, dirige sua fala para ela: “É o gigante da maldade comendo o povo pra engordar o Governo da República! Mas São Jorge me emprestou a lança dele pra matar o gigante da maldade”. Empunha o punhal, braço direito erguido: “Tá aqui! Tá aqui!”. Com a mão esquerda pega o fuzil que estava com Dadá e, braços para o céu, exclama: “Tá aqui o meu fuzil pra não deixar pobre morrer de fome!”. A ação como se fosse papel de desenho, a câmera risca uma figura de uma linha só: começa no rosto de Corisco e de Dadá, acompanha o cangaceiro girando em círculos em volta da mulher, concentra o olhar na roupa desalinhada, nos cinturões cruzados sobre o peito, até se fixar no rosto dele, meio em quadro meio fora de quadro. Sobe numa reta até a ponta do punhal na mão direita, desce em linha curva de volta ao rosto dele, torna a subir em outro semicírculo até o fuzil na mão esquerda e gira uma última vez para voltar ao rosto de Corisco.

Cangaceiro em desenho de Glauber feito após “Deus e o diabo na terra do sol”
Uma espiral em torno do beijo de Corisco e Rosa, um rabisco sobre os beatos, um ziguezague entre o cego Júlio e Corisco passando por Rosa e Dadá, uma linha reta para correr com o vaqueiro Manuel em direção ao mar, um traço vertical para cair do céu sobre o santo Sebastião no alto do Monte Santo. A câmera desenha, e o espectador, mesmo sem se dar conta disso, percebe primeiro o desenho, a linha irregular que conduz o olhar para a esquerda, para a direita ou para o fundo da cena. Quer dizer: o que o espectador vê, mesmo, é o pedaço de cara de Corisco, o cinturão, o punhal, o fuzil, de novo o cinturão, os gestos da mão cheia de anéis e, lá atrás, um pedaço da caatinga.
Para ver o traçado invisível da câmera, o olhar é guiado pela cena que ela torna visível. Mas, como quem vê dá-se conta do quê e de onde vê, e como aqui desde cedo somos solicitados a prestar mais atenção no modo de olhar que na história olhada, a movimentação da câmera se torna mais presente que a cena por trás dela. Em lugar de ocultar a presença da câmera, para concentrar a atenção no que se passa com os personagens, transformá-la num personagem de vida própria, quase independente da ação que filma. Riscar uma figura no espaço, forma abstrata e invisível em primeiro plano. O rabisco traçado ora com raiva ora com indignação é a imagem do descontentamento diante do mundo mal dividido entre Deus e o diabo.
Não é a história de Manuel, o vaqueiro que se rebela contra o Coronel, foge para Monte Santo com a mulher, Rosa, torna-se jagunço do Sebastião, entra para o cangaço no bando de Corisco e corre desesperado em direção ao mar. Não é um documento ficcional da injustiça da sociedade em que o poder explora e empurra a gente pobre para a rebeldia pelo misticismo ou pela violência anárquica – e adiante aniquila a revolta com a ação armada de Antônio das Mortes. O que se vê não é a cena, mas sim a intranquilidade do olhar, que aqui e ali mais oculta que mostra e pode mesmo desorientar o espectador acostumado à narração bem arrumada do cinema industrial. Bem de acordo com o grito de Corisco no meio do sertão, como seu personagem, Glauber se propõe a desarrumar o arrumado. Desarruma o silêncio com um som estridente, desarruma a música com um silêncio inesperado, desarruma a imagem com o tremido da câmera ou a luz muito forte, arranca um pedaço do gesto para torná-lo mais brusco. A queda de Corisco depois de ferido por Antônio das Mortes, a rigor, é incompleta, falta um pedaço de imagem no meio. Nada falta nessa falta, pois esse pedaço arrancado da imagem, como um cisco que incomoda o olhar, é que dá, visualmente, o significado da ação. Na verdade, Deus e o diabo na terra do sol talvez seja exatamente o que nele permanece invisível, as figuras traçadas pela câmera sobre a cena e esse pedacinho de imagem que falta na morte de Corisco. Esse invisível, esse inacabado é que desabou sobre os olhos dos primeiros espectadores como a realização da promessa feita pelo trem dos Lumière na estação de La Ciotat: o cinema pulou fora da tela para atropelar quem estivesse na sala.
A invenção dos Lumière apresentou-se outras vezes antes da primeira sessão pública em 28 de dezembro de 1895, no Salon Indien do Grand Café do Boulevard des Capucines, em Paris. A inventiva de Glauber mostrou-se outras vezes antes da primeira sessão aberta ao público, na segunda-feira 1º de junho de 1964, num circuito de 14 salas comandadas pelo antigo cinema Ópera, na praia de Botafogo. O que comemoramos aqui, neste novo 1º de junho, não é o impacto com que o filme foi recebido em sua estreia, mas o fato de ele permanecer, 50 anos depois, uma invenção em processo, inacabada. Por isso, a cada nova exibição, Deus e o diabo na terra do sol continua dando a impressão de que nele vemos cinema pela primeira vez.
José Carlos Avellar é coordenador de cinema do IMS.