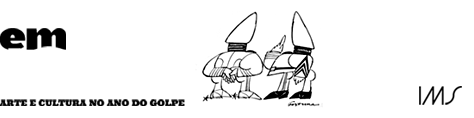Uma das principais publicações do ano de 1964 – e da literatura brasileira moderna –, A paixão segundo G.H., de Clarice Lispector, agitou parte da crítica literária da época. Segundo a própria autora, o romance, escrito em pouco menos de um ano, foi o melhor que já escreveu.
Em outubro de 1964, apenas um mês antes do lançamento de A paixão segundo G.H., pela Editora do Autor, Clarice Lispector publicou o livro de contos e crônicas A legião estrangeira pela mesma casa editorial. Ainda nesse ano, a José Álvaro lançou as segundas edições de O lustre (1946) e A cidade sitiada (1949).
Dentre todas essas publicações, o que abalou aquele final de 1964 foram mesmo G.H. e a barata, as duas personagens principais. Muito da crítica literária sobre o romance ecoaria no ano seguinte, em sua maioria, de forma positiva. No entanto, Carlos Jorge Appel, colunista do Correio da Manhã, classificou a obra como “monótona” e “árida” em artigo no qual, à luz de Lukács e Heidegger, aproxima A paixão segundo G.H. “mais da seriedade científica que da insubstituível alegria estética”.
Correio de Notícias, 29.11.1964 / Biblioteca Nacional
Suplemento Literário, Crônica do Suplemento
De Clarice Lispector
Raul Lima
Que grande romancista é Clarice Lispector. E não o digo porque A paixão segundo G.H. seja do gênero de romance mais aproximado do meu gosto, pois não é. Como leitor vulgar prefiro os romances onde vão acontecendo as coisas com os personagens, haja uma fabulação pertinente e atraente. E o novo livro de Clarice Lispector é o mais distante disso. Porém de uma seiva, uma densidade literária verdadeiramente rara. E de uma profundidade espiritual também singular.
Nos meus começos de atividade lítero-jornalística trabalhei algum tempo como condensador de romances e biografias. Não sei bem como me safaria para condensar A paixão segundo G.H., que é um desafio àquele tipo de trabalho, mas estou certo de que não contaria apenas que a heroína foi arrumar um quarto e esmagou uma barata… Receio que algum leitor seja capaz de resumir assim a estória em si, num demasiado simplismo.
Não é que essa parte seja irrelevante. Ao contrário, é fundamental e as linhas que a romancista lhe dedica realmente hão de figurar nas páginas antológicas da literatura brasileira.
A descrição do bicho é uma obra-prima, desde o momento em que aparece, quando começa a expelir massa branca como bisnaga, de todos os ângulos em que a vê a romancista.
Mas, sem ser pesado nem abafado, o que especialmente impressiona nesse livro é a profunda introspecção, a maneira como a narradora revolve a própria alma. Sua atitude diante de Deus exige a análise científica de um teólogo.
“Nós somos muito atrasados, e não temos ideia de aproveitar Deus numa intertroca – como se ainda não tivéssemos descoberto que o leite se bebe.
Com Deus a gente também pode abrir caminho pela violência. Ele mesmo, quando precisa mais especialmente de um de nós, Ele nos escolhe e nos violenta.
Só que minha violência para com Deus tem que ser comigo mesma. Tenho que me violentar para precisar mais. Para que eu me torne tão desesperadamente maior que eu fique vazia e necessitada. Assim terei tocado na raiz do precisar.
E Ele não só deixa, como necessita ser usado, ser usado é um modo de ser compreendido. (Em todas as religiões Deus exige ser amado.) Para termos, falta-nos apenas precisar. Precisar é sempre o momento supremo.”
Noutro capítulo a fisiologia da prece é o texto admiravelmente desenvolvido, “(…) para falar com o Deus devo juntar sílabas desconexas”. “(…) a verdadeira prece é o mudo oratório inumano”. “O que falo com Deus tem que não fazer sentido! Se fizer sentido é porque erro.”
Não é um livro fácil, a mensagem que contém não é simples e literal mas tem um sentido apaixonante. E, sobretudo, é um livro extraordinariamente bem escrito.
Também dessa grande escritora de nossa língua, e igualmente lançado pela Editora do Autor, é o volume de contos e crônicas A legião estrangeira.
Publicado no Diário de Notícias em 29/11/64
Jornal do Brasil , 08.01.1965 / Biblioteca Nacional
Segunda seção
Literatura de exportação
Wilson Figueiredo
The New York Times Book Review, revista literária dominical do NY Times, publica um artigo de Antônio Callado sobre o atual panorama da literatura brasileira, onde se destaca a categoria exportável já atingida pelos nossos autores. Guimarães Rosa é apontado como o maior escritor vivo do país e, entre outros, merecem menção e comentários especiais os escritores Jorge Amado, Erico Verissimo (o único que pode viver do que produz), Vianna Moog, Márcio Moreira Alves, e Carlos Heitor Cony. Mas é Clarice Lispector, com a A paixão segundo G.H., que ocupa a maior parte do artigo. Callado lamenta a pouca familiaridade do público norte-americano com os livros da grande escritora.
Publicado no Jornal do Brasil em 8/1/65
Correio da Manhã, 13.03.1965 / Biblioteca Nacional
Livros na mesa
A paixão segundo Clarice
Marly de Oliveira
Um outro livro de Clarice Lispector vem deitar novas luzes sobre sua obra anterior, através daquele simples processo por que um elo se unindo a um outro elo nos oferece, enfim, a visibilidade de uma cadeia. E o voluptuoso, o esquisito, é atirar-se o leitor à sinuosa procura desses encaixes luminosos, a fim de que o pensamento do autor possa ser acompanhado na sua linha de continuidade, se a houver, através de seus vários livros.
De certo modo, A paixão segundo G.H. elucida o sentido maior de A maçã no escuro. Num e noutro há um estudo da condição humana, com a diferença de que, neste, a personagem chega ao fim de sua construção sem atingir o sentido de sua queda, ao passo que, naquele, a mesma queda lhe dá o sentido de toda a sua vida. Em A maçã no escuro, Martim obedece a um obscuro impulso, que o leva a um crime como a uma criação, criação que o ultrapassa, deixando-o ao mesmo tempo maravilhado e intrigado, à procura de uma explicação para seu ato. Tão grandes foram as consequências do que com esse ato fez desencadear, que a verdade se plurifacetou, e ele sucumbe com a vaga sensação de ter tocado em alguma coisa essencial, mas que continua desconhecendo, assim como quem pega no escuro uma maçã ou quem tateia no pulso uma veia. Em A paixão, a personagem sabe o que atingiu, mas à maneira dos místicos, sem saber, com um “entender no entendimento”, uma incompreensão que ultrapassa a própria compreensão. De tal maneira é delicado o tecido do que constitui a fina realidade das coisas, que, uma vez atingido, acontece como na “terzina” dantesca:
“nostro intelletto si profonda tanto
che dietro la memoria non può ire.”
Que não se equivoque porém o leitor seduzido pela aproximação que naturalmente se estabelece, em virtude do processo antitético utilizado para traduzir o inefável, entre a experiência clariciana e a experiência dos místicos. A menos que se pudesse falar de um misticismo com todo o corpo, e se pensasse numa união com um Deus “cujo reino é deste mundo”. Porque para Clarice Lispector “o divino é o real”, e para alcançá-lo o caminho é o oposto do voo ungido de esperança de que fala San Juan de la Cruz nas suas “Coplas a lo divino”:
“Tras un amoroso lance
Y no de esperanza falto,
Volé tan alto, tan alto,
Que le di a la caza alcance”.
Ao invés de uma superação, um transcender de sua humanidade, a personagem de A paixão vai recuar até o irredutível, desvencilhando-se de todas as camadas superpostas pela civilização, a fim de perceber a identidade de todas as coisas.
Livrando-se do que encobre a parte coisa, divina, que há em si mesma, e que se identifica com a coisa de que são feitas todas as coisas, ela atinge o real, que é o divino, e que possui uma grande atualidade, que é o hoje. Isso implica uma grave renúncia, a da esperança, que é um adiamento, uma promessa de futuro. Embora pareça uma atitude negativa, ao contrário, a abolição da esperança faz circular em grossas veias o presente, que é eterno, porque o futuro também será a atualidade do futuro, e, por conseguinte, será também presente.
Como se dá o encontro de G.H. com a realidade?
Assim como Martim no curral experimenta um certo mal-estar ao intuir que “estava certo aquele cheiro de matéria”, que ali estava a “raiz da vida”, a porta de entrada de G.H. para o conhecimento se faz através do nojo, da aversão, do profundo asco. Pensando em fazer uma limpeza no apartamento e decidindo-se a começar pelo quarto da empregada que se fora, para sua grande surpresa ela o encontra todo claro, limpo e vazio, como um deserto: símbolo de secreto ódio que lhe devotara aquela criatura negra e de traços de rainha. Janair deixara-lhe um grande deserto branco: na parede um mural “cujo desenho não era porém um ornamento, mas uma escrita”. O quarto pareceu-lhe um minarete, num mesmo plano o desenho é então “hierático”, e representa o contorno de um homem, uma mulher e um cão, como muda censura à sua vida. É quando, como Martim, ela tem a sua cólera, traduzida primeiro numa vontade de destruir tudo o que havia naquele quarto, em seguida num ódio límpido, que é a vontade de matar a barata empoeirada que surge de dentro do armário.
A barata representa o que de pior podia ter acontecido, o auge do horror, e este é o caminho. O quarto é um deserto, cuja única porta é uma barata nojenta, que a mão não matou totalmente, uma barata que deixou de ser a ideia que se faz de uma barata, e em cuja vida ela vê malgrado a própria repulsa, alguma coisa com que sua própria vida se identifica. Na imobilidade do silêncio da barata ela reconhece a vida do silêncio que haveria em si mesma se ela tivesse a coragem de abandonar os sentimentos e a esperança e ingressar na “danação”, que é “o inferno da matéria viva”. Para entrar no deserto do quarto a porta era estreita como na Bíblia, só que de outra qualidade, a qualidade daquilo que representa o “ínfimo”: uma barata.
Naquele quarto se daria um estranho processo de desindividualização, pela qual ela sai de seu mundo e entra no mundo. A passagem se fizera, e ela se encontra no centro de um deserto, que seduzia, e para o qual ela caminha como para uma verdade ou uma loucura. Uma verdade diferente da que conhecemos, pois estamos habituados a pensar que a verdade, estando fora de nós, porque a queremos alcançar, está acima de nós, e, portanto, exige um levantar de forças para o alto. A verdade que uma mulher entrevia e que temia aceitar, era uma “verdade infamante”, que “a fizesse rastejar e ser do nível de uma barata”. (41) Caminhar para a verdade era o mesmo que caminhar para a barata, e caminhar para a barata era caminhar para o reconhecimento da “mais primária vida divina”.
A passagem se fizera através da barata e do grande recuo dentro de si mesma até a figura da parede. Esse recuo atinge a dimensão do simbólico, pois significa um avanço até o futuro, além da volta a todo o passado, a fim de alcançar o presente, o atual, pela continuidade, como se o mural não fora senão o contorno do que se processa ininterruptamente, e de que apenas conhecemos a forma. Estamos diante de uma nova visão do tempo, da vida e da morte. “Eu passara ao primeiro plano primário, estava no silêncio dos ventos e na era de estanho e cobre – na era primeira da vida” (48). Mas o seu maior espanto foi ter compreendido, diante da barata, ainda viva, “que o mundo não é humano, e que não somos humanos” (48).
O imundo é a raiz: ter passado pela barata significava chegar ao começo, à vida primária, à desumanização e ao atual, “que era a maior brutalidade que jamais recebera” (56), pois “a atualidade não tem esperança, e a atualidade não tem futuro: o futuro terá exatamente de novo uma atualidade”, que lhe exigia que vivesse o presente e ficasse no que é, sem transcender (58), sem enfeitar (59): “Quero o Deus naquilo que sai do ventre da barata”. Não transcender significa ficar no neutro, e o neutro é o inferno, a abolição do excesso, dos atributos da coisa, que, em si mesma, não tem nome, nem gosto, nem cheiro. Não transcender significa também não fazer; quando ela nada mais quer fazer pela barata, atinge outro ponto de intensidade sem dor: o rompimento com a antiga noção de moralidade e de bondade.
O importante é que aos poucos se dá o reconhecimento do quarto, do deserto, pela sensação já antes experimentada do insípido e do insosso (63, 64). Ela penetra, então, no inexpressivo (70) e cede à identidade (71), o neutro, que é “o elemento vital que liga as coisas” (72). E isso é diabólico, isso é o demoníaco, o antes do humano (72). “E se a pessoa vê essa atualidade ela se queima como se visse o Deus. A vida pré-humana divina é de uma atualidade que queima.”
Após um descortinar de delírio e uma tortura de infernal alegria, as sucessivas reflexões sobre a vida, o amor e a morte levam à conclusão de que há um descaminho que também é caminho, que sempre existiu, e que finalmente a conduzirá ao “escrínio” onde estava o segredo, “o segredo mais remoto do mundo: um pedaço de coisa, um pedaço de ferro, uma antena de barata, uma caliça de parede” (98). Dera-se o almejado encontro com uma coisa que afinal ela sempre possuíra, mas tão sem saber, que foi necessário quase morrer para intuí-la, um segredo que apesar de tudo ela continuava sem entender, porque estava a uma certa distância dela. E que passo seria preciso dar em sua direção? A destruição do humano, “viver a vida em vez de viver a própria vida” (103)? E com sua consequente punição: a desorganização do mundo humano.
Ficar na coisa, ficar no essencial sem acessórios e no atual, leva a uma nova concepção de Deus, do santo e do milagre. Para não transcender mais era preciso obter a redenção na própria coisa, o que significava botar na boca a massa branca da barata (117). O desmaio mostra-lhe que o que de mais profundo pode acontecer, fá-lo sem que saibamos. Mas comer a massa branca da barata ainda é um acréscimo, e a verdade maior é o neutro, a essência, que é de uma “insipidez pungente”, a que se chega caminhando “em direção ao inverso”. Caminhar em direção ao inverso da construção humana é encontrar em si aquele ponto essencial que, pela simples existência, revela o outro, despersonalizar-se, deseroizar-se como a maior conquista, votar-se à própria queda, para aceitar enfim a própria natureza, “com o seu suplício espantado, onde a dor não é alguma coisa que nos acontece, mas o que somos. E é aceita a nossa condição como a única possível, já que ela é o que existe, e não outra. E já que vivê-la é a nossa paixão. A condição humana é a paixão de Cristo.”
A paixão segundo G.H. – Clarice Lispector (Editora do Autor, 1964).
Publicado no Correio da Manhã em 13/1/65
Correio da Manhã, 21.03.1965 / Biblioteca Nacional
Tentativa de explicação
Leo Gilson Ribeiro
Já desde o início, a vida de Clarice Lispector fora um constante deslocamento. Entre a pracinha da Faculdade de Direito em Recife, onde ela brincava quando criança e a Praça General Osório, no Rio, onde nos encontramos agora, há uma longa trajetória, uma parábola que percorre meio mundo. Durante esses anos, ela viveu em países estrangeiros, teve dois filhos, e a menina que aos sete anos enviava colaborações para a página infantil de um jornal pernambucano transformou-se na mais extraordinária escritora brasileira. O reconhecimento unânime da crítica já se espraia pelo estrangeiro: Der Apfel im Dunkeln, o título em alemão do seu romance A maçã no escuro, é saudado como uma das obras mais importantes já traduzidas da América Latina. De lá para cá surgiram também seus contos que começara adolescente ainda: densos, estranhos, incomparáveis na sua maneira de expressar sensações, na sua falta de artifício, na sua diretriz inconscientemente nova e intensamente pessoal. Esse deslocamento frequente abrangeu o espaço, o tempo, as circunstâncias. Seus pais, russos da Ucrânia dos trigais imensos e do folclore de uma alegria estouvada, decidiram emigrar e foi numa cidadezinha (“que você não vai achar no mapa”) que tiveram de interromper a viagem, para a menina nascer. De Tchetchelnik a Recife, ela trouxe para a nossa literatura muito do mistério daqueles invernos luminosos e foscos, uma ilha de sugestão em meio à exuberância do nosso colorido tropical. Por um triz o destino deixou de presentear-nos com a sua sensibilidade: a família hesitou uns tempos antes de vir para o Brasil distante. Detiveram-se na Alemanha, pensaram estabelecer-se nos Estados Unidos. Felizmente para a literatura brasileira, fixaram-se definitivamente entre nós.
Quando menina, frequentou a Escola João Barbalho, perto da Rua Conde de Boa Vista, naquele Recife de árvores frondosas que traçam um delicado labirinto de sombras frescas nas calçadas. “A criança geralmente tem uma ideia diferente das dimensões das coisas, você sabe como é: eu brincava na escadaria da Faculdade e lembrava que era enorme. De passagem por Recife, eu a revi no seu tamanho natural, da mesma maneira antigamente aquele jardinzinho da praça, onde choferes namoravam empregadas, e me parecia uma selva, um mundo – era o meu mundo, onde eu escondia coisas, que depois não achava nunca mais.”
Com as dimensões, variaram também os ambientes. Transferindo-se aos doze anos para o Rio, Clarice mais tarde se casaria com um diplomata brasileiro e seus olhos grandes, claros, contemplariam imagens do sul da Inglaterra, de Nápoles, da Suíça, de Washington. Mas através de todas as mutações externas permanecia, imutável, o escrever. Isolada que estava do Brasil, da língua, da literatura, ela nunca deixava de escrever: “Eu escrevia sempre, até hoje me espanto de como podia trabalhar sem estímulo, não sei se hoje poderia”. Ao ambiente sobrepõe-se, assim, a visão interior: na Suíça branca, geométrica, de píncaros dos Alpes nevados, ela escreve “Mistério em São Cristóvão”, uma evocação fantasmagórica do carnaval carioca na noite do subúrbio outrora aristocrático. “A menor mulher do mundo” foi escrita numa primavera, em Washington, com os primeiros sinais do calor sufocante, sugerido por uma notícia lida em jornal. No entanto, não fica eliminada, no processo de criação, a paisagem exterior: ela observa a beleza sobrenatural da Catedral de Berna iluminada nas noites de domingo e como que desmaterializada: “E por mais que a vista inteligente quisesse continuar a enxergar o impacto de uma parede, sentia que a transpassava. Atingindo, não o outro lado da transparência, mas a própria transparência.” Ou quando se vê rodeada de moças indígenas num aeroporto da África, ensinando-as a usar um lenço de cabeça que elas admiravam: “Quando vejo, estou cercada de pretas moças e esgalhadas, seminuas, todas muito sérias e quietas. Nenhuma presta atenção ao que ensino, e vou ficando sem jeito, assim rodeada de corças negras. Nos rostos opacos as listras pintadas me olham. A doçura contagia: também me aquieto.”
Os países estrangeiros, porém, não a prendem, Clarice não é uma depaysée que suspira pela Europa ancestral, desambientada no Brasil. Ao contrário. Durante os anos de ausência no exterior, afirma: “Eu vivia mentalmente no Brasil, vivia ‘emprestada’. Simplesmente porque gosto de viver no Brasil, o Brasil é o único lugar do mundo em que não me pergunto, assombrada: afinal de contas o que é que eu estou fazendo aqui, por que estou aqui, meu Deus? Porque é aqui mesmo que tenho que estar, que estou enraizada.”
O contato inicial com os livros é explosivo, em mocinha ela lê “como quem tem fome, com avidez; eu lia atabalhoadamente, às vezes, até dois livros por dia. Chorava com O lobo da estepe, de Hesse, com Dostoievski. Acho que não aprendia nada nem apreendia nada também: Machado de Assis, por exemplo, me causava prazer lê-lo, só mais tarde é que descobri a sua melancolia”. Diametralmente oposta à “técnica” literária, à criação consciente de um “estilo” penosamente forjado, Clarice Lispector chegou espontaneamente ao seu modo, inconfundível, de escrever, do qual diria mestre Alceu Amoroso Lima com a sua autoridade inconteste: “Ninguém escreve como ela. Ela não escreve como ninguém. Só seu estilo mereceria um ensaio especial. É uma clave verbal diferente, à qual o leitor custa a adaptar-se. É preciso ler muito devagar as primeiras páginas, para entrar nesse plano estilístico singular, cheio de mistério e de sugestão. Uma vez nele, cremos que o leitor sentirá o mesmo encanto sombrio que sentimos. E que coloca Clarice Lispector numa trágica solidão em nossas letras modernas.” Mas para ela essa “clave verbal diferente” e entranhadamente inimitável surgiu naturalmente, sem esforço nem intenção: “Meu estilo não foi escolhido, eu não saberia escrever de outro modo. Meu estilo é um desajeitamento, uma procura de acertar. Tive até susto quando começaram a falar do meu estilo! A princípio, confessa, fiquei um pouco decepcionada também, porque insistiam no modo de eu escrever e não no que eu escrevia.” Depois compreenderia, diz, a identidade do que dizia e da forma de dizê-lo ou, para usar a linguagem crítica, que a forma e o conteúdo são inseparáveis.
Para ela, escrever é atingir um momento, embora passageiro, de realização, de plenitude. Através da áspera busca que significa a criação, essa lenta jornada “perto do coração selvagem”, escrever para ela é uma forma de totalidade: “Como certos instantes em que se ouve música: é-se invadido por uma totalidade, como a do amor, tem-se uma noção de se estar completo, integral.” Do amor ela já dissera, anteriormente: “Amor? É respiração, não é? E não se pode dizer mais que isso. Quem não ama pode realizar alguma coisa em função da falta de amor. É como um abismo que é a ausência de uma montanha. A falta de amor pode ser tão profundamente sentida que se pode viver da falta que ele faz.” Ora, para quem tem uma concepção tão absoluta da arte, a literatura nunca é “literária”, é-lhe indiferente saber a que “escola” pertence: “Não é só que me faltem cultura e erudição, é que esse assunto não me interessa, antigamente eu me acusava, mas hoje não busco documentar-me; porque eu acho que a literatura não é literatura, é vida vivendo, nem se pode aprender também, o que se faz é sofrer com os outros, e aprender sozinha”. Para ela, escrever se compõe de duas componentes, ambas – sem que ela o diga – de origem religiosa: a humildade diante do ato de criar e a inocência, que a libera de qualquer “método” ou “tendência literária”, tornando-se o escrever espontâneo, evidente como um ato natural, o desabrochar de uma flor, por exemplo:
“O processo de escrever é feito de erros – a maioria essenciais – de coragem, e preguiça, desespero e esperança, de vegetativa atenção, de sentimento constante (não pensamento) que não conduz a nada, não conduz a nada, e de repente aquilo que se pensou que era “nada” era o próprio assustador contato com a tessitura de viver-se esse instante de reconhecimento, esse mergulhar anônimo na tessitura anônima, esse instante de reconhecimento (igual a uma revelação) precisa ser recebido com a maior inocência, com a inocência de que se é feito. O processo de escrever é difícil?! mas é como chamar de difícil o modo extremamente caprichoso e natural como a flor é feita (Mamãe, me disse o menino, o mar está lindo, verde e com azul, e com ondas! está todo anaturezado! todo sem ninguém ter feito ele!). É também um sinal profundo de humildade: “Refiro-me à humildade no sentido cristão (como ideal a poder ser alcançado ou não), refiro-me à humildade que vem da plena consciência de se ser realmente incapaz. E refiro-me à humildade como técnica… só se aproximando com humildade da coisa é que ela não escapa totalmente…” Se alguns a acusam de hermética, de difícil, ela argumenta: “Tomo um ar involuntariamente hermético. Depois da coisa escrita, eu poderia friamente torná-la mais clara? Mas é que sou obstinada. E por outro lado, respeito uma certa clareza peculiar ao mistério natural, não substituível por clareza outra nenhuma. E também porque acredito que a coisa se esclarece sozinha com o tempo: assim como num copo de água, uma vez depositado no fundo o que quer que seja, a água fica clara. Se jamais a água ficar limpa, pior para mim. Aceito o risco.”
Essa ojeriza ao postiço das conversas “literárias”, da “vidinha literária” confirma o seu horror ao monstre sacré, mantém a sua naturalidade como ser humano e torna mais funda a sua comunicação com o mundo que a rodeia. Um mundo no qual as crianças e os bichos ocupam um lugar privilegiado, aparecendo frequentemente nos seus contos, nos seus romances: “Sinto muita ternura pela infância me sinto mesmo, próxima da criança, às vezes nem sei quem encabula mais, se eu ou a criança. Mas essa minha empatia, essa minha identificação com a criança é irresistível.” Talvez porque a criança tem uma imaginação poética, livre de conceitos intelectuais, vê tudo com mais liberdade, com maior espírito crítico e com uma agudeza de percepção não desprovida da ironia que caracteriza muito da auto-ironia da escritora. Como o mundo infantil se reflete, na sua candura, no seu humor, na sua percepção perspicaz e imaginativa no diálogo intitulado “Come, meu filho”, que contém o seguinte trecho:
“… Pepino não parece inreal?
– Irreal.
– Por que você acha?
– Se diz assim.
– Não, por que é que você achou que pepino parece inreal? Eu também. A gente olha e vê um pouco do outro lado, é cheio de desenho bem igual, é frio na boca, faz barulho um pouco de vidro quando se mastiga. Você não acha que pepino parece inventado?” – Ou no diálogo brevíssimo denominado “Ad Eternitatem”:
“– Me disseram que a gente está no século xx, é?
– É.
– Mamãe, como nós estamos atrasados, meu Deus!”
Bem próximos das crianças, estão os bichos, aliás, unidos por uma ternura frequentemente mútua. Clarice explicando o seu amor pelos bichos, que menciona em diversas de suas histórias, confessa: “Eles me parecem uma forma acessível de gente. As pessoas são inacessíveis, o animal não me julga… Parece-me que sinto os bichos como uma das coisas ainda muito próximas de Deus, material que não inventou a si mesmo, coisa ainda quente do próprio nascimento; e, no entanto, coisa já se pondo imediatamente de pé, e já vivendo toda, e em cada minuto vivendo de uma vez, nunca aos poucos, apenas, nunca se poupando, nunca se gastando.”
E se não fosse escritora, o que ela teria sido? Ela se sente realizada, feliz, como é atualmente? “Se eu não fosse escritora, juro que ia ser médica. Eu seria mais feliz. Ser médica quer dizer agir diretamente na realidade, ter contato direto com outro ser humano. Eu teria minhas horas ocupadas frutiferamente, dormiria o sono dos justos, dos que cumpriram uma tarefa essencial. Mas também, se eu fosse feliz, ia morar bem longe, numa cidadezinha do interior. Do Estado do Rio, talvez.
– ?!
– É, sim, porque é preciso ser muito feliz para viver numa cidade pequena, pois ela alarga a felicidade como alarga também a infelicidade. De modo que vou morando mesmo aqui no Rio. Você sabe, nas cidades grandes todos sabem que em cada apartamento existe uma espécie de solidariedade, pois em cada apartamento mora uma pessoa infeliz.”
Da cobertura ampla de um prédio em Ipanema, onde conversamos à noite, olhamos um momento para a favela em frente à Praça General Osório. Talvez não seja uma praça tão diferente da praça em frente à faculdade, no Recife: aqui, também, os choferes namoram as empregadas e é talvez perto daqui que Clarice escondeu as coisas que nunca mais conseguiu achar. As luzes da favela brilham quase que com ternura sutil. Se não fosse a tragédia que elas iluminam incertamente, podia-se dizer que a favela era bonita, mas não no sentido estético, no sentido alienado da miséria que as luzes nem escondem. Bonita no sentido poético, como é feio um prédio construído pela sofreguidão imobiliária. Sartre, em sua última obra, reitera seu desencanto com a obra literária, que considera ineficaz como arma de mudanças sociais. Uma posição semelhante e uma conclusão idêntica são as da escritora brasileira: “Desde que me conheço, o fato social teve em mim importância maior do que qualquer outro: em Recife, os mocambos foram a primeira verdade para mim. Muito antes de sentir ‘arte’, senti a beleza profunda da luta. Mas é que tenho um modo simplório de me aproximar do fato social: eu queria era ‘fazer’ alguma coisa, como se escrever não fosse fazer. O que não consigo é usar escrever para isso, por mais que a incapacidade me doa e me humilhe.”
Publicado no Correio da Manhã em 21/3/65
Correio da Manhã, 26.06.1965 / Biblioteca Nacional
Livros na mesa
A paixão segundo G.H.
Carlos Jorge Appel
Se a realidade não é reprodução fotográfica do mundo exterior, também não se pode prescindir dela ou utilizá-la arbitrariamente.
A paixão segundo G.H. é um jogo de formas abstratas que não conseguem tangenciar a realidade constituída, basicamente duma relação dinâmica entre fenômeno e essência. Clarice Lispector não captou a unidade dialética dos opostos que existe no interior de um personagem, de uma ação ou situação. Criou uma falsa unidade, um mundo inorgânico. Conforme Lukács, a verdadeira arte “aprofunda-se sempre na busca daqueles momentos mais essenciais de maneira abstrata, fazendo abstração de fenômenos e contrapondo-se àqueles, e assim apreende exatamente aquele processo dialético vital pelo qual a essência se transforma, se revela no fenômeno, fixando também, na sua mobilidade, a sua própria essência”. Não existe mobilidade no romance, sem o que nem fenômeno nem essência podem manifestar-se de modo pleno e convincente: “Ao contrário da ciência, que resolve este movimento nos seus elementos abstratos e se esforça por identificar conceitualmente as normas que regulam a interação entre os elementos, a arte conduz à intuição pela sensibilidade desse movimento como movimento mesmo, na sua unidade viva”. (1).
Está claro que a essência só pode ser representada se organicamente inserida no quadro da fermentação dos fenômenos a partir dos quais ela amadurece – e vive. A realidade não chega a manifestar-se em A paixão segundo G.H. (2) de modo efetivo. A demonstração de uma ideia, tese ou proposição é válida se brotar de uma situação ou de uma ação. Resulta estéril considerar os problemas propostos e desenvolvidos em qualquer romance, como em A paixão segundo G.H., se os mesmos não são representados de maneira adequada.
O romance brasileiro atual, com poucas exceções, não acompanhou a linha evolutiva do nosso mundo e seus problemas. Os assuntos atuais são constantemente desfocados por uma concepção clássica do mundo, como é o caso do último romance de Clarice Lispector.
Aprendemos que a história caminha dialeticamente. Por isto, a cultura não pode afastar-se da realidade mais objetiva e típica de cada povo sem descaracterizar uma perspectiva válida e, como consequência, desvalorizar o homem em sua circunstância. Uma ação, isolada de sua tessitura cultural, pode ser tão perigosa quanto reacionária, no seu poder de estratificação da realidade, porque subtrai dela o seu elemento dinâmico: o fenômeno. O subtrair, assim entendido, não é um nada, mas acontecimento não revelado. Aquilo que se subtrai, diz Heidegger, pode tocar o homem mais essencialmente e absorvê-lo mais que todo o presente que o toca e se refere a ele.
Captar esteticamente a essência de alguma coisa, de uma ideia, não constitui ato simples e definitivo, como acontece em A paixão segundo G.H. Será sempre um processo, movimento e aproximação gradativa da realidade essencial: “A filosofia idealista da arte e a sua prática de estilização captam claramente a antítese entre fenômeno e essência, mas por força de carência dialética ou por força de inconsequência dialética idealista, detêm-se exclusivamente na antítese que existe entre os dois termos, sem reconhecer a unidade dialética dos opostos que subsiste no interior dessa antítese”. (1) No trabalho de Clarice Lispector não há unidade, porque a verdadeira busca da essência foi substituída por um mero jogo de analogias sem profundidade. Uma concepção idealista da essência fez com que a autora prescindisse do real, derivando para um perigoso formalismo. Percebe-se, na trajetória dos romances de Clarice Lispector, uma perda gradual de peso específico da realidade. Tudo se passa fora do tempo e do espaço, o que acarreta de imediato uma falsa atmosfera porque não tem gravidade humana. Toda a problemática, deslocada de seu eixo real, desliza sobre uma ilusória seriedade, porque houve engano nas dimensões. O romance não pode prescindir do tempo, porque sem ele não há noção de destino. O personagem só pode realizar-se num espaço-tempo que, dando-lhe contornos, se caracteriza também a partir de sua ação: “A autêntica dialética da essência e do fenômeno se baseia no fato de que a essência e o fenômeno são momentos da realidade objetiva, produzidos pela realidade e não pela consciência humana.”
Rejeitando uma realidade imediata e superficial, o porta-voz da autora – G.H. – desloca-se para um plano ideal, como se fosse válido. Prescindindo do contato com a realidade superficial, quotidiana, procura o outro extremo, onde o acontecer – bolinhos de pão à mesa, movimento até a sacada, arrumação do quarto da ex-empregada, o desenho na parede, a barata, o sentar-se na cama – são conceitos que arremetem a uma tese filosófica quando deveriam fluir do personagem em situação. Tudo desliza para um vácuo incompatível com o romance. G.H. procura ver-se na ausência dos objetos. Mesmo quando aparecem alguns, já são símbolos, o que vai determinar um subjetivismo irremediável. A paixão segundo G.H. é o romance da superconsciência e, sendo assim, é a negação da criação romanesca. A consciência que busca conhecer a realidade na ausência dos fenômenos comuns cai num vácuo incompatível com uma realidade mais íntegra. Daí uma indisfarçável monotonia e aridez no romance.
Em ficção importa criar e não conceituar uma realidade. Os conceitos serão sempre redução de uma realidade mais ampla. Supor que possa existir um romance sem um mínimo de ação é tão ilusório quanto imaginar uma pintura sem cores.
O romancista cria uma representação de vida do homem no mundo. As conclusões a que chega, exprime-as nos personagens que inventa e nas palavras escolhidas para alcançar estes objetivos. Existem várias razões para o escritor realizar os seus romances – e sua visão pessoal está sempre dada em personagens autênticos, que não sejam papel carbono do autor. Sua visão é povoada de seres vivos. É por isso que se pode falar de um mundo do romancista. Criar um mundo não é, por certo, a maior realização do romancista, mas se não o conseguir, nunca realizará obras mais inteiras e completas. Em nenhum dos romances de Clarice Lispector existe a criação de um mundo, estágio necessário para uma realização maior.
De qualquer modo, não é possível objetar um defeito básico: A paixão segundo G.H. aproxima-se mais da seriedade científica que da insubstituível alegria estética.
Notas
(1) Georg Lukács – Ensaios sobre Literatura – Ed. Civilização Brasileira, 1965.
(2) Clarice Lispector – A paixão segundo G.H. – Ed. do Autor, 1964.
Publicado no Correio da Manhã em 26/6/65